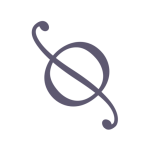A Professora da Paródia – A Moda do Derrotismo em Judith Butler
Por Martha Nussbaum1
I.
Por muito tempo, o feminismo acadêmico nos EUA tem sido intimamente aliado à luta prática para atingir justiça e equidade para mulheres. A teoria feminista tem sido entendida por teóricas não apenas como palavras bonitas no papel; a teoria é conectada a propostas de mudança social. Deste modo, acadêmicas feministas têm se engajado em muitos projetos concretos: a reforma da legislação sobre estupro; o ganho de atenção e reparação legal pelos problemas da violência doméstica e assédio sexual; a melhoria das oportunidades econômicas, condições de trabalho e educação para mulheres; o ganho de licença maternidade para trabalhadoras; a campanha contra o tráfico de mulheres e meninas na prostituição; a atuação pela igualdade política e social para lésbicas e gays.
De fato, algumas teóricas abandonaram completamente a academia, sentindo-se mais confortáveis no mundo da política prática, onde podem lidar mais diretamente com esses problemas urgentes. Aquelas que permanecem na academia fizeram questão de honra ser acadêmicas do tipo engajado e prático, sempre focando nas reais condições materiais das mulheres, escrevendo sempre de modo a reconhecer esses corpos e seus desafios reais. Não se pode ler uma página de Catherine MacKinnon, por exemplo, sem se engajar em uma questão real de direito e de mudança institucional. Se alguém discorda de suas proposições – e muitas feministas discordam – o desafio apresentado pela sua obra é encontrar alguma outra maneira de solucionar um problema vividamente delineado.
Em alguns casos, feministas divergiram a respeito do que é ruim e do que é necessário para melhorar as coisas; porém todas concordaram que a situação das mulheres é, muitas vezes, injusta e que ações políticas e legais podem torná-la mais justa. MacKinnon, que descreve hierarquia e subordinação como endêmicas em toda nossa cultura, também está comprometida, e cautelosamente otimista, com mudanças através da lei – a lei doméstica contra estupro e assédio sexual e a legislação internacional sobre direitos humanos. Até Nancy Chodorow, que, em A Reprodução da Maternidade [tradução livre], apresentou um triste relato sobre a replicação de categorias opressivas de gênero na criação de filhos, argumentou que essa situação pode mudar. Homens e mulheres podem decidir, compreendendo as infelizes consequências desses hábitos, que passarão a agir de modo diferente; e mudanças nas leis e instituições podem ajudar em tais decisões.
A teoria feminista ainda se apresenta dessa maneira em diversas partes do mundo. Na Índia, por exemplo, feministas acadêmicas se lançaram em lutas práticas, e o teorizar feminista está intimamente atrelado a compromissos práticos como a alfabetização feminina, a reforma das leis agrárias desiguais, mudanças na lei sobre estupro (que, na Índia atual, tem muitas das falhas atacadas pela primeira geração de feministas americanas), o esforço para conseguir reconhecimento social para problemas de assédio sexual e violência doméstica. Essas feministas sabem que vivem no meio de uma realidade de atroz injustiça; elas não podem viver consigo mesmas sem lidar com isso quase diariamente na sua escrita teórica e nas suas atividades fora da sala de seminários.
Nos Estados Unidos, no entanto, as coisas têm mudado. Pode-se notar uma nova e inquietante tendência. Não é só a teoria feminista que pouco se atenta aos desafios das mulheres fora dos Estados Unidos. (Esta sempre foi uma característica desanimadora mesmo de muitas das melhores obras do período inicial.) Algo mais insidioso que o provincianismo se tornou proeminente na academia americana. É a mudança de foco virtualmente completa do aspecto material da vida para um tipo de política verbal e simbólica que tem apenas tênues ligações com a situação de mulheres reais.
As pensadoras feministas do novo tipo simbólico parecem acreditar que a única maneira de fazer política feminista é usando palavras de modo subversivo, em publicações acadêmicas de obscuridade pomposa e abstração desdenhosa. Esses gestos simbólicos, creem elas, são por si mesmos atos de resistência política; e, assim, evita-se engajar em coisas mais complicadas como legislações e movimentos para agir audaciosamente. Além disso, o novo feminismo ensina a seus membros que existe pouco espaço para mudança social em larga escala, e, talvez, espaço algum. Somos todas, mais ou menos, prisioneiras das estruturas de poder que definiram nossa identidade como mulheres; nunca poderemos mudar em grande escala essas estruturas, e nunca conseguimos escapar delas. Tudo que podemos fazer é encontrar espaços dentro das estruturas de poder para as parodiar, escarnecer delas, transgredi-las com o discurso. E, assim, a política verbal simbólica, além de ser apresentada como um tipo de política real, é considerada a única política realmente possível.
Esses desenvolvimentos devem muito à recente proeminência do pensamento pós-modernista francês. Muitas jovens feministas, quaisquer que sejam suas afiliações concretas com este ou aquele pensador francês, tem sido influenciadas pela ideia extremamente francesa de que o intelectual faz política falando subversivamente, e que este é um tipo significativo de ação política. Muitas também derivam dos escritos de Michel Foucault (correta ou incorretamente) a ideia fatalista de que somos prisioneiras de uma estrutura de poder totalmente abrangente, e que movimentos reformistas da vida real normalmente acabam servindo ao poder de maneiras novas e insidiosas. Tais feministas, portanto, encontram conforto na ideia de que resta disponível o uso subversivo das palavras para intelectuais feministas. Despidas da esperança de mudanças maiores e mais duradouras, ainda podemos realizar nossa resistência através da reformulação de categorias verbais e, desta maneira, às margens, das identidades por elas constituídas.
Uma feminista americana tem moldado esses desdobramentos mais do que qualquer outra. Para muitos jovens acadêmicos, Judith Butler parece definir o que é o feminismo atualmente. Educada como filósofa, é frequentemente vista (mais por pessoas na literatura do que por filósofos) como uma importante pensadora sobre gênero, poder e o corpo. Enquanto nos perguntamos o que aconteceu com o antigo estilo de política feminista e as realidades materiais com as quais estava comprometido, parece necessário conhecer as obras e influência de Butler, e examinar os argumentos que levaram muitos a adotar uma postura que muito se assemelha ao "quietismo" e à fuga.
II.
É complicado enfrentar as ideias de Butler, porque é complicado entender o que são. Butler é muito astuta. Em discussões públicas, ela prova que pode falar claramente e tem uma rápida compreensão do que é dito a ela. Seu estilo de escrita, por outro lado, é laborioso e obscuro. Ele é repleto de alusões a outros teóricos e é elaborado a partir de uma vasta gama de diferentes tradições teóricas. Além de Foucault e com um foco mais recente em Freud, a obra de Butler depende fortemente do pensamento de Louis Althusser, da teórica francesa lésbica Monique Wittig, da antropóloga americana Gayle Rubin, Jacques Lacan, J. L. Austin e do filósofo da linguagem americano Saul Kripke. Essas personalidades não concordam completamente umas com a outras, para dizer o mínimo; então, um problema inicial ao ler Butler é que aquele que tenta fazê-lo fica aturdido ao encontrar os argumentos dela sustentados por tantos conceitos e tantas doutrinas contraditórias, geralmente sem nenhuma explicação de como as aparentes contradições serão resolvidas.
Um problema adicional reside no casual modo de Butler de fazer alusão. As ideias desses pensadores nunca são descritas em suficiente detalhe para incluir os não iniciados (caso você não esteja familiarizado com o conceito althusseriano de “interpelação ideológica”, você ficará perdido por capítulos) ou para explicar aos iniciados como exatamente as difíceis ideias estão sendo compreendidas. Claro, muito da escrita acadêmica é alusiva de algum modo: pressupõe um conhecimento prévio de certas doutrinas e posições. Mas em ambas as tradições filosóficas continental e anglo-americana, autores acadêmicos, para um público especialista, reconhecem que as figuras que eles mencionam são complicadas e são objeto de diversas interpretações diferentes. Eles, portanto, tipicamente assumem a responsabilidade de adiantar uma interpretação definitiva entre as que estão sendo contestadas, exibindo, através de argumentos, por que interpretaram a figura em questão da forma que interpretaram e por que a interpretação deles é melhor que a de outros.
Não encontramos nada disso em Butler. Interpretações divergentes são simplesmente desconsideradas — até mesmo quando, nos casos de Foucault e Freud, ela adianta interpretações altamente contestáveis que não seriam aceitas por muitos estudiosos. Desse modo, aquele que lê sua obra é levado à conclusão de que as alusões feitas em sua escrita não podem ser explicadas da maneira usual, que seria expor um conjunto de especialistas ávidos para debater os detalhes de uma posição acadêmica esotérica. A escrita é simplesmente magra demais para satisfazer tais especialistas. É também óbvio que a obra de Butler não é direcionada para um público não acadêmico ávido para enfrentar injustiças reais. Tal público ficaria simplesmente perplexo diante da espessa sopa que é a prosa de Butler, pelo seu ar de entendimento interno a um grupo ou pela sua extremamente alta prevalência de nomes em relação a explicações.
Para quem, então, Butler está falando? Parece que ela se dirige a um grupo de jovens teóricas feministas na academia que não são estudantes de filosofia, que se importariam com o que Althusser, Freud ou Kripke realmente disseram; nem leigas, que precisem ser informadas sobre a natureza dos projetos deles e convencidas de seu valor. O público implícito é imaginado como notoriamente dócil. Subserviente à voz oracular do texto de Butler e deslumbrado pela sua aparência de abstração altamente conceitual, o leitor imaginado levanta poucas questões, não cobra argumentos nem definições claras dos termos.
Ainda mais estranhamente, espera-se que o leitor implícito não se importe substancialmente com a visão final da própria Butler em diversos assuntos. Pois uma grande proporção de frases em qualquer livro escrito por Butler — especialmente frases próximas do fim de capítulos — são perguntas. Às vezes a resposta para essas perguntas é evidente. Mas frequentemente as coisas são muito mais indeterminadas. Entre as frases não interrogativas, diversas começam com “Considere que...” ou “Alguém poderia sugerir que...” — de tal modo que Butler nunca realmente diz ao leitor se ela aprova ou não a opinião descrita. A mistificação, tal como a hierarquia, são as ferramentas de sua prática; uma mistificação que se esquiva da crítica, porque faz poucas alegações definidas.
Observe esses dois exemplos representativos:
O que significa, para a agência de um sujeito, pressupor sua própria subordinação? O ato de pressupor é o mesmo que o ato de reintegração ou existe uma descontinuidade entre o poder pressuposto e o poder reintegrado? Considere que, no próprio ato no qual o sujeito reproduz as condições de sua própria subordinação, o sujeito exemplifica uma vulnerabilidade temporalmente baseada que pertence àquelas condições, especificamente, às exigências da renovação delas.
E:
Tais perguntas não podem ser respondidas aqui, mas elas indicam uma direção para o pensamento que é, talvez, anterior à questão da consciência [moral], isto é, a questão que preocupava Spinoza, Nietzsche e, mais recentemente, Giorgio Agamben: Como devemos entender o desejo como sendo um desejo constitutivo? Ressituando a consciência e a interpelação ideológica dentro de tal avaliação, nós poderíamos, então, adicionar outra questão àquela: Como é esse desejo explorado não somente por uma lei no singular, mas por leis de vários tipos, de forma que cedemos à subordinação de forma a manter algum sentido de “ser” social?
Por que Butler prefere escrever dessa maneira provocante e exasperada? O estilo certamente não é sem precedentes. Alguns recintos da tradição filosófica continental, embora certamente não todos eles, têm uma infeliz tendência a prezar o filósofo como uma estrela que fascina mais frequentemente pela obscuridade do que como um argumentador entre iguais. Quando as ideias são postas claramente, afinal de contas, elas podem ser destacadas de seus autores: alguém pode tomá-las e segui-las por conta própria. Quando elas permanecem misteriosas (na verdade, quando não estão bem declaradas), o leitor permanece dependente da autoridade de origem. O pensador ou a pensadora só ganha atenção por seu carisma empolado. O leitor paira em suspense, ávido pelo próximo passo. Quando Butler realmente seguir a “direção para o pensamento”, o que ela dirá? O que significa, diga-nos, por favor, a agência de um sujeito pressupor sua própria subordinação? (Nenhuma resposta clara a essa questão, tanto quanto posso ver, está próxima.) É dada a impressão de uma mente tão profundamente intelectual que ela não vai se pronunciar sobre qualquer coisa levemente: então se espera, numa reverência por sua profundidade, que ela finalmente trate de fazê-lo.
Desse modo, a obscuridade cria uma aura de importância. E também serve para outro propósito relacionado. Intimida o leitor a admitir que, já que ninguém consegue compreender o que está se passando, então deve haver algo significativo acontecendo, alguma complexidade de pensamento, onde, na realidade, há noções familiares ou até surradas sendo muitas vezes tratadas de um modo simplório e casual demais para adicionar qualquer nova dimensão de entendimento. Quando os leitores intimidados pela obra de Butler reunirem a ousadia para pensar assim, eles verão que as ideias desses livros são magras. Quando as noções de Butler são demonstradas de forma clara e sucinta, percebe-se que, sem mais distinções e argumentos adicionais, elas não vão longe nem são especialmente novas. Assim, a obscuridade preenche o vácuo deixado pela ausência de uma complexidade real de pensamento e argumento.
Ano passado, Butler ganhou o primeiro lugar no Concurso do Texto Ruim [“Bad Writing Contest”], patrocinado pela revista acadêmica Philosophy and Literature, pelo seguinte trecho:
A mudança de uma explicação estruturalista, na qual entende-se que o capital estrutura as relações sociais de maneiras relativamente homólogas, para uma visão de hegemonia, onde as relações de poder estão sujeitas a repetição, convergência e rearticulação, trouxe a questão da temporalidade ao pensamento de estrutura, e marcou uma transição de uma forma da teoria althusseriana, que toma as totalidades estruturais como objetos teóricos, para outra, em que os insights sobre a possibilidade contingente da estrutura inauguram um conceito renovado de hegemonia, como algo associado às situações e estratégias contingentes de rearticulação do poder.
Agora, Butler poderia ter escrito: “As considerações marxistas, focando-se no capital como uma força central estruturando as relações sociais, retrataram as operações dessa força como uniforme em todo lugar. Por outro lado, as considerações althusserianas, focando-se no poder, veem as operações dessa força como variadas e inconstantes ao longo do tempo”. Ao invés disso, ela dá preferência à verborragia, que demanda ao leitor tanto esforço em decifrar a prosa dela que resta pouca energia para avaliar a verdade daquelas alegações. Ao anunciar o prêmio, o editor da revista acadêmica comentou que “foi possivelmente a obscuridade indutora de ansiedade de tal escrita que levou o professor Warren Hedges da Southern Oregon University a enaltecer Judith Butler como ‘provavelmente uma das dez pessoas mais inteligentes do planeta’”. (Tal escrita ruim é, aliás, de nenhuma forma ubíqua no grupo de teóricos da “teoria queer” ao qual Butler é associada. David Halperin, por exemplo, escreve sobre a relação entre Foucault e Kant, e sobre a homossexualidade grega, com clareza filosófica e precisão histórica.)
Butler obtém prestígio no mundo literário por ser uma filósofa; muitos admiradores associam sua maneira de escrever à profundidade filosófica. Mas deveriam se perguntar se isso ao menos pertence à tradição filosófica, em vez de às tradições intimamente relacionadas, porém conflitantes, de sofisma e retórica. Desde que Sócrates distinguiu filosofia do que os sofistas e os retóricos estavam fazendo, ela tem sido um discurso de iguais que trocam argumentos e contra-argumentos sem qualquer truque obscurantista. Dessa forma, afirmou, a filosofia demonstra respeito pela alma, enquanto outros métodos manipulativos demonstram apenas o desrespeito. Numa tarde, fatigada por Butler numa longa viagem de avião, voltei-me para um rascunho de dissertação de uma estudante sobre identidade pessoal na visão de Hume. Rapidamente me senti reanimada. “Ela escreve tão claramente”, pensei com prazer e com uma ponta de orgulho. E Hume, que agradável e que alma graciosa: como ele respeita a inteligência do leitor, mesmo à custa de expor sua própria incerteza.
III.
A principal ideia de Butler, introduzida na obra Gender Trouble em 1989 e repetida em seus livros, é que gênero é um artifício cultural. Nossas ideias sobre o que é ser mulher ou homem não são reflexos de algo que exista eternamente na natureza. Ao invés disso, derivam de nossos costumes que incorporam as relações sociais de poder.
Essa noção, claro, não é nova. A desnaturalização dos gêneros já estava presente em Platão, e recebeu uma grande força de John Stuart Mill, que disse em A Sujeição das Mulheres que “o que é chamado agora de natureza da mulher é algo eminentemente artificial”. Mill percebia que as alegações sobre “a natureza da mulher” derivam de hierarquias de poder e as fortalecem: fez-se da feminilidade qualquer coisa que servisse para a causa de manter as mulheres subjugadas, ou, nas palavras dele, “dominar as mentes delas”. Tanto com a família quanto com o feudalismo, a retórica do natural serve à causa da escravidão. “Sendo a sujeição das mulheres aos homens um costume universal, é bem natural que qualquer desvio dela pareça antinatural… Mas já houve um dia qualquer dominação que não parecesse natural para aqueles que a possuíam?”
Mill dificilmente foi o primeiro construtivista social. Ideias semelhantes sobre raiva, ganância, inveja e outras características proeminentes de nossas vidas foram comuns na história da filosofia desde a Grécia Antiga. E a aplicação de Mill de noções familiares de construção social para gênero precisava, e ainda precisa, de mais desenvolvimento; suas observações sugestivas ainda não constituíam uma teoria de gênero. Muito antes de Butler vir à cena, muitas feministas contribuíram para a articulação de tal explicação.
Em trabalhos publicados nas décadas de 1970 e 1980, Catharine MacKinnon e Andrea Dworkin argumentaram que o entendimento convencional dos papeis gênero é uma maneira de assegurar a contínua dominação masculina nas relações dos sexos, assim como na esfera pública. Elas tomaram o cerne do insight de Mill para uma esfera da vida a respeito da qual o filósofo vitoriano disse pouco. (Não nada, no entanto: em 1869 Mill já havia entendido que a falta de criminalizar o estupro dentro do casamento definiu a mulher como uma ferramenta para o uso masculino e negou a ela dignidade humana.) Antes de Butler, MacKinnon e Dworkin abordaram a fantasia feminista de uma natureza sexual idílica da mulher que só precisava ser “liberada”; e argumentaram que forças sociais são tão profundas que nós não deveríamos supor que temos acesso a uma noção de “natureza”. Antes de Butler, elas enfatizaram os modos pelos quais as estruturas de poder da dominação masculina marginalizam e subordinam não só às mulheres, mas também às pessoas que gostariam de escolher um relacionamento homossexual. Elas entendiam que a discriminação contra gays e lésbicas é uma forma de fazer cumprir os familiares papéis de gênero ordenados hierarquicamente; e então elas viam a discriminação contra gays e lésbicas como uma forma de discriminação sexual.
Antes de Butler, a psicóloga Nancy Chodorow deu uma detalhada e convincente explicação de como as diferenças de gênero replicam-se através das gerações: ela argumentou que a ubiquidade desses mecanismos de replicação nos permite entender como o que é artificial pode, contudo, ser quase onipresente. Antes de Butler, a bióloga Anne Fausto Sterling, através de sua minuciosa crítica do trabalho experimental que supostamente apoia a naturalidade das distinções convencionais entre gêneros, mostrou quão profundamente relações sociais de poder comprometeram a objetividade dos cientistas: Mitos de Gênero (“Myths of Gender”, 1985) foi um título adequado para o que ela achou na biologia daquele tempo. (Outros biólogos e primatólogos também contribuíram para essa empreitada.) Antes de Butler, a teórica política Sissan Moller Okin explorou o papel da lei e do pensamento político na construção de um destino de gênero para mulheres na família; e esse projeto, também, foi aprofundado por um número de feministas no direito e na filosofia política. Antes de Butler, a importante explicação antropológica da subordinação, O Tráfico de Mulheres (“The Traffic in Women”, 1975), de Gayle Rubin, forneceu uma análise valiosa sobre a relação entre a organização social do gênero e as assimetrias do poder.
Então, o que o trabalho de Butler adicionou para esse corpo abundante de textos? Gender Trouble e Bodies That Matter não contêm nenhum argumento detalhado contra alegações biológicas de uma diferença “natural”, nenhuma explicação dos mecanismos da replicação de gênero, e nenhuma explicação do modelo legal de família; nem mesmo contêm qualquer foco detalhado nas possibilidades de mudanças legais. O que, então, Butler oferece que nós não possamos achar de maneira mais elaborada em escritos feministas mais antigos? Uma alegação relativamente original é que quando reconhecemos a artificialidade das distinções de gênero, e abstemo-nos de pensar nelas como expressando uma realidade natural independente, nós também vamos entender que não há nenhuma razão convincente pela qual os tipos de gêneros deveriam ser dois (correlacionados aos dois sexos biológicos), em vez de três ou cinco ou um número indefinido. “Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente independente do sexo, o gênero em si torna-se um artificio que flutua livremente”, ela escreveu.
Dessa afirmação não se segue, para Butler, que nós podemos livremente reinventar os gêneros como nós quisermos: ela defende, na verdade, que há limites severos para nossa liberdade. Ela insiste que nós não deveríamos imaginar ingenuamente que há um eu intocado que é anterior à sociedade, pronto para emergir completamente puro e emancipado: “Não há nenhum eu que seja anterior à convergência ou que mantenha uma ‘integridade’ antes de sua entrada nesse campo cultural conflituoso. Há somente um pegar as ferramentas onde jazem, onde o próprio ‘pegar’ é facilitado pela ferramenta que jaz ali”. Butler de fato alega, no entanto, que podemos criar categorias que são, de alguma maneira, novas, por meio de habilidosas paródias das antigas. Dessa forma, a ideia mais conhecida dela, seu conceito de política como uma performance paródica, surge a partir de um senso de uma (estritamente limitada) liberdade que surge do reconhecimento que as ideias que se tem sobre gênero foram moldadas por forças que são sociais em vez de biológicas. Nós estamos condenados a repetir as forças estruturais em que nós nascemos, mas nós podemos ao menos fazer graça delas; e algumas maneiras de fazer graça são ataques subversivos às normas originais.
A ideia de gênero como performance é a ideia mais famosa de Butler, então vale a pena parar para examinar mais minuciosamente. Ela introduziu a noção intuitivamente, em Gender Trouble, sem invocar precedente teórico. Depois ela negou que estava se referindo a uma performance quasi-teatral, e em vez disso associou sua noção à descrição de Austin dos atos de fala em How to Do Things with Words [“Como fazer coisas com palavras”, em tradução livre]. A categoria linguística de “[enunciados] performativos” de Austin é uma categoria de enunciados linguísticos que funcionam, por e a partir de si, como ações em vez de asserções. Quando (em cinscunstâncias sociais apropriadas) eu digo “eu aposto dez dólares”, ou “me desculpe”, ou “sim eu aceito” (em uma cerimônia de casamento), ou “eu nomeio este barco...”, eu não estou relatando uma aposta ou desculpas ou um casamento ou uma cerimônia de nomeação, estou conduzindo essas coisas.
A alegação análoga de Butler sobre gênero não é obvia, pois as “performances” em questão envolvem gestos, vestimenta, movimento e ação, assim com a linguagem. A tese de Austin, que é restrita mais a uma análise técnica de um certa classe de enunciados, não é, de fato, especialmente útil para Butler em desenvolver as suas ideias. De fato, embora ela veementemente repudie leituras do trabalho dela que associem a visão dela com o teatro, pensar sobre o trabalho subversivo com gênero do Living Theater [companhia de teatro novaiorquina fundada em 1947] parece iluminar as ideias dela muito mais que pensar sobre Austin.
O tratamento que Butler dá a Austin nem é muito plausível. Ela faz a afirmação bizarra de que o fato da cerimônia de casamento ser um das dezenas de exemplos de performativos no texto de Austin sugere “que a heterossexualização do laço social é a forma paradigmática para aqueles atos de fala que geram o que rotulam”. Dificilmente. Casamento não é mais paradigmático para Austin do que apostas ou dar nome a um barco ou promessas ou desculpas. Ele está interessado em uma propriedade formal de certas declarações, e nenhuma razão nos é dada para supor que os conteúdos delas têm qualquer significância para o argumento dele. Geralmente é um erro dar significado bombástico a uma escolha trivial de exemplos de um filósofo. Deveríamos dizer que se Aristóteles usa uma dieta de baixa caloria para ilustrar o silogismo prático isso sugere que o frango está no cerne da virtude aristotélica? Ou que o uso que Rawls faz de planos de viagem para ilustrar o raciocínio prático mostra que A Theory of Justice [“Uma Teoria da Justiça”] visa a dar férias a todos nós?
Deixando essas peculiaridades de lado, o argumento de Butler é presumivelmente este: quando agimos e falamos de uma maneira marcada pelo gênero, nós não estamos simplesmente relatando algo que já está fixo no mundo, estamos ativamente constituindo-o, replicando-o e reforçando-o. Ao nos comportarmos como se houvesse “naturezas” masculina e feminina, nós co-criamos a ficção social de que essa naturezas existem. Elas nunca estão separadas de nossas práticas; estamos sempre fazendo com que estejam lá. Ao mesmo tempo, pela realização dessas performances de uma forma ligeiramente diferente, uma forma paródica, talvez possamos desfazê-las um pouco.
Dessa forma, o único lugar para ação em um mundo tolhido pela hierarquia são as pequenas oportunidades que temos para nos opor aos papéis de gênero cada vez que eles tomam forma. Quando eu me percebo fazendo a feminilidade, eu posso virar o jogo, zombar dela, fazê-la um pouco diferente. Tais performances reativas e paródicas, na visão de Butler, nunca desestabilizam o sistema maior. Ela não tem em mente movimentos de resistência de massa ou campanhas por reforma política; só atos pessoais efetuados por um pequeno número de agentes cientes. Assim como atores com um roteiro ruim podem subvertê-lo proferindo as linhas ruins de maneira estranha, da mesma forma se faz com o gênero: o roteiro continua ruim, mas os atores têm um pouquinho de liberdade. Assim nós temos bases para o que Butler chama, em Excitable Speech, de “uma esperança irônica”.
Até aqui, as asserções de Butler, embora relativamente familiares, são plausíveis e até mesmo interessantes, embora sua visão estreita das possibilidades de mudança já seja de se perturbar. No entanto, Butler acrescenta a essas alegações plausíveis sobre gênero duas outras alegações que são mais fortes e mais controversas. A primeira é que não há um agente por trás de ou anterior às forças sociais que produzem o eu. Se isso significa apenas que os bebês nascem em um mundo marcado por gênero que começa a replicar machos e fêmeas quase imediatamente, a alegação é plausível, mas não surpreendente: experimentos demonstraram, por um tempo, que a maneira que os bebês são mantidos e conversados, a maneira como os sentimentos deles são descritos, são profundamente moldados pelo sexo que os adultos em questão acreditam que a criança tem. (O mesmo bebê será balançado se os adultos pensarem que é um menino, aconchegado se pensarem que é uma menina; seu choro será rotulado como medo se os adultos acharem que é uma menina, e como raiva se eles pensarem que é um menino.) Butler mostra nenhum interesse nesses fatos empíricos, mas eles dão apoio à opinião dela.2
Se ela quer dizer, no entanto, que os bebês entram no mundo completamente inertes, sem quaisquer tendências e sem habilidades que são de algum modo anteriores à experiências deles em uma sociedade marcada pelo gênero, isso é muito menos pláusivel, e dificilmente sustentado empiricamente. Butler não oferece tal sustentação, preferindo manter-se no alto plano de abstração metafísica. (De fato, sua recente obra freudiana pode até mesmo repudiar essa ideia: sugere, com Freud, que há ao menos alguns impulsos e têndencias pré-sociais, embora, tipicamente, essa linha não seja desenvolvida claramente.) Além disso, tal exagerada negação de agência pré-cultural retira alguns dos recursos que Chodorow e outros usam quando tentam explicar a mudança cultural na direção da melhoria.
Butler quer, ao fim, dizer que temos um tipo de agência, uma habilidade de realizar mudanças e resistência. Mas de onde essa habilidade surge, se não há estruturas na personalidade que não sejam completamente criação do poder? Não é impossível, para Butler, responder a essa pergunta, mas ela certamente ainda não a respondeu, não de uma maneira que convença àqueles que acreditam que os seres humanos têm ao menos alguns desejos pré-culturais — por comida, por conforto, por controle cognitivo, por sobrevivência — e que essa estrutura na personalidade é crucial na explicação de nosso desenvolvimento como agentes morais e políticos. Seria desejável vê-la se engajando com as formas mais fortes dessa visão, e dizer, claramente e sem jargão, exatamente por que e onde ela as rejeita. Seria também desejável ouvi-la falar sobre crianças reais, que parecem sim manifestar uma estrutura de empenho que influencia desde o princípio sua recepção de formas culturais.
A segunda alegação forte de Butler é que o corpo em si mesmo, e especialmente a distinção entre os dois sexos, é também uma construção social. Ela não quer só dizer que o corpo é moldado de várias maneiras pelas normas sociais de como homens e mulheres devem ser; ela quer dizer também que o fato de que uma divisão binária dos sexos é tida como fundamental, como uma chave para organizar a sociedade, é em si uma ideia social que não é dada na realidade corporal. O que exatamente essa alegação significa, e o quão plausível é?
A breve exploração que Butler faz de Foucault sobre hermafroditas nos mostra a insistência ansiosa da sociedade em classificar cada ser humano em uma ou outra caixa, o indivíduo se encaixando ou não em uma; mas é claro que isso não mostra que existem muitos desses casos indeterminados. Ela está certa em insistir que nós poderíamos ter feito muitas classificações diferentes dos tipos de corpos, não necessariamente dando enfoque à divisão binária como a mais proeminente; e ela também está certa em insistir que, em grande medida, alegações de diferença corporal de sexo supostamente baseadas em pesquisas científicas foram projeções de preconceito cultural — embora Butler não ofereça nada aqui que seja tão convincente quanto a análise biológica meticulosa de Fausto Sterling.
E no entanto é simples demais dizer que o poder é tudo o que o corpo é. Nós poderíamos ter tido os corpos de pássaros ou dinossauros ou leões, mas não temos; e essa realidade molda nossas escolhas. A cultura pode moldar e remodelar alguns aspectos de nossa existência corpórea, mas não molda todos os aspectos dela. “No homem castigado pela fome e pela sede”, como Sexto Empírico observou muito tempo atrás, “é impossível produzir por argumento a convicção de que ele não está assim castigado”. Esse é um fato importante também para o feminismo, uma vez que as necessidades nutricionais das mulheres (e suas necessidades especiais quando grávidas ou lactantes) são um tópico feminista importante. Mesmo onde a diferença entre sexos é considerada, é certamente demasiado simples descrever tudo como cultura; as feministas não devem ter o afã de fazer tal gesto generalizante. Mulheres que correm ou jogam basquete, por exemplo, estavam certas em acolher a demolição de mitos sobre as habilidades atléticas femininas que eram o produto das suposições da dominação masculina; mas elas também estavam certas em exigir a pesquisa especializada sobre os corpos das mulheres que promoveu uma melhor compreensão das necessidades de treinamento e lesões das mulheres. Em suma: o que o feminismo requer, e às vezes consegue, é um estudo sutil da interação entre diferença corporal e construção cultural. E os pronunciamentos abstratos de Butler, flutuando acima de toda a matéria, nada nos dão do que precisamos.
IV.
Suponha que nós concedamos a Butler as suas alegações mais interessantes até este ponto: de que a estrutura social de gênero é ubíqua, mas que somos capazes de resistir a ela através de atos subversivos e de paródia. Duas significantes questões permanecem. A que deveríamos resistir e com base em quê? Com que os atos de resistência seriam parecidos, e o que poderíamos esperar que eles alcançassem?
Butler usa diversas palavras para aquilo que ela toma como mau e, portanto, digno de resistência: o “repressivo”, o “subordinante”, o “opressivo”. No entanto, ela não fornece nenhuma discussão empírica sobre resistência, do tipo que encontramos, digamos, no fascinante estudo sociológico de Barry Adam The Survival of Domination (1978), que estuda a subordinação de negros, judeus, mulheres, gays e lésbicas; e as suas maneiras de lutar contra as formas de poder social que os oprimem. Butler também não fornece nenhuma explicação sobre os conceitos de resistência e opressão que nos ajude, em caso de estarmos realmente em dúvida sobre ao que deveríamos resistir.
Butler nesse assunto se afasta de feministas construtivistas sociais anteriores, todas as quais usaram ideias tais como a não-hierarquização, igualdade, dignidade, autonomia e o tratamento [de pessoas] como fins em vez de meios, para indicar uma direção para a política real. Ela está ainda menos disposta a elaborar qualquer noção normativa positiva. Na realidade, está claro que Butler, como Foucault, opõe-se inflexivelmente a noções normativas, tais como dignidade humana ou tratar a humanidade como um fim, com a justificativa de que são inerentemente ditatoriais. Na visão dela, nós deveríamos esperar para ver o que a própria luta política regurgita, ao invés de prescrevê-la com antecedência para seus participantes. Noções normativas universais, ela diz, “colonizam sob o signo do idêntico”.
Essa ideia de esperar para ver no que chegaremos — em poucas palavras, essa passividade moral — parece plausível em Butler porque ela pressupõe tacitamente que tem um público de leitores da mesma opinião que (meio que) concordam sobre o que são as coisas más — discriminação contra gays e lésbicas, o tratamento desigual e hierárquico de mulheres — e que até (meio que) concordam sobre por que elas são más (elas subordinam algumas pessoas a outras, negam liberdades que as pessoas deveriam ter). Mas tire essa pressuposição, e a ausência de uma dimensão normativa se torna um problema grave.
Tente ensinar Foucault numa faculdade de Direito contemporânea, como tenho feito, e você rapidamente perceberá que a subversão toma diversas formas, nem todas convenientes a Butler e os seus aliados. Como um perspicaz estudante libertário me disse, por que não posso usar essas ideias para resistir à estrutura tributária, ou às leis antidiscriminação, ou talvez até mesmo para me afiliar a milícias? Outros menos afeiçoados à liberdade podem se engajar em performances subversivas de fazer graça de comentários feministas na sala de aula ou rasgar os pôsteres da associação de lésbicas e gays estudantes de Direito. Essas coisas acontecem. São paródicas e subversivas. Por que, então, não são ousadas e boas?
Bem, há boas respostas para essas perguntas, mas você não as encontrará em Foucault ou Butler. Respondê-las requer discutir que liberdades e oportunidades seres humanos devem ter e o que significa para instituições sociais tratar seres humanos como fins em vez de meios — em suma, uma teoria normativa da justiça social e dignidade humana. Uma coisa é dizer que deveríamos ser humildes em relação a nossas normas universais e estar dispostos a aprender com a experiência de pessoas oprimidas. E outra bem diferente é dizer que não precisamos de qualquer norma. Foucault, diferentemente de Butler, pelo menos mostrou sinais em seus trabalhos posteriores de que procurava lidar com esse problema; e toda a sua escrita é animada por um senso feroz da textura da opressão social e do dano que esta traz.
Pensando bem, a justiça, entendida como uma virtude pessoal, tem exatamente a estrutura do gênero na análise butleriana: não é inata ou “natural”, é produzida por repetidos performances (ou, como disse Aristóteles, aprendemos fazendo), molda nossas inclinações e força a repressão de algumas delas. Essas performances ritualísticas e suas repressões associadas são reforçadas por arranjos de poder social, como crianças que não compartilham o parquinho descobrem prontamente. Além disso, a subversão paródica da justiça é ubíqua na política, assim como na vida privada. Mas há uma diferença importante. Geralmente, nós desaprovamos atos subversivos e pensamos que os jovens devem ser fortemente desencorajados a ver as normas de justiça de uma maneira tão cínica. Butler não é capaz de explicar de alguma forma puramente estrutural ou procedimental por que a subversão de normas de gênero é um bem social, enquanto a subversão da justiça é um mal social. Foucault, devemos lembrar, aplaudiu o aiatolá, e por que não? Aquilo também foi resistência, e não existia realmente nada no texto que nos dizia que aquela luta era menos merecedora que uma luta por direitos e liberdades civis.
Existe uma lacuna, então, no centro da noção de política de Butler. Essa lacuna pode parecer libertadora, porque o leitor a completa implicitamente com uma teoria normativa de igualdade e dignidade humanas. Mas que não haja erro: tanto para Butler quanto para Foucault, subversão é subversão, e pode em princípio levar a qualquer direção. Na verdade, a política ingenuamente vazia de Butler é especialmente perigosa para as mesmas causas que preza. Para cada amigo de Butler ávido para participar de performances subversivas que proclamam a repressão da heteronormatividade, existem dúzias daqueles que gostariam de participar de atos que zombam das normas de cumprimento de obrigações tributárias, da não discriminação e do tratamento digno dos próprios colegas estudantes. Para tais pessoas devemos dizer ‘vocês não podem simplesmente resistir como desejarem, pois há normas de justiça, decência e dignidade que determinam que este é um mau comportamento’. Mas então temos que articular tais normas — e isso Butler se recusa a fazer.
V.
O que exatamente Butler oferece quando aconselha a subversão? Ela nos aconselha a engagar em performances paródicas, mas adverte que o sonho de escapar completamente de estruturas opressivas é apenas um sonho: é dentro das estruturas opressivas que devemos encontrar pequenos espaços para resistência, e não se deve esperar que essa resistência mude a situação geral. E nisso há um perigoso quietismo.
Se Butler pretende somente nos advertir contra os perigos de fantasiar com um mundo idílico em que o sexo não provoque problemas sérios, é sábio da parte dela. Entretanto, ela costuma ir muito além. Butler sugere que as estruturas institucionais que asseguram a marginalização de gays e lésbicas em nossa sociedade e a contínua desigualdade das mulheres nunca sofrerão mudanças profundas. Assim, nossa maior esperança é tapar o nariz para elas e encontrar alguns momentos de liberdade pessoal. “Chamada por um nome ofensivo, eu me torno um ser social, e porque tenho uma certa ligação inevitável com a minha existência, porque um certo narcisismo se apodera de qualquer termo que confira existência, sou levada a abraçar os termos que me ferem porque eles me constituem socialmente”. Em outras palavras, “não posso escapar das estruturas humilhantes a não ser que eu deixe de existir, então o melhor a se fazer é zombar e usar a linguagem da subordinação de forma pungente”. Para Butler, a resistência é sempre imaginada como pessoal, mais ou menos privada, não envolvendo nenhum tipo de ação pública séria e organizada em prol de mudanças legais ou institucionais.
Não seria isso semelhante a dizer a um escravo que a instituição da escravidão jamais mudará, mas que se pode encontrar formas de zombá-la e subvertê-la, encontrando liberdade pessoal em atos de provocação cuidadosamente delimitada? No entanto, é um fato que a instituição da escravidão pode ser mudada, e de fato foi – mas não por pessoas que adotam perspectivas semelhantes às de Butler quanto às possibilidades. Houve mudança porque as pessoas não se contentaram com a performance paródica: elas demandaram, e até certo ponto conseguiram, grandes transformações sociais. É também um fato que as estruturas institucionais que moldam a vida de mulheres mudaram. A legislação sobre estupro, embora ainda deficiente, ao menos melhorou; a legislação sobre assédio sexual existe onde antes não existia; o casamento não é mais considerado como uma forma de dar aos homens controle monárquico sobre o corpo das mulheres. Essas mudanças foram conquistadas por feministas que não aceitaram a performance paródica como resposta, mas que julgaram que o poder, quando ruim, deveria e iria ceder perante a justiça.
Butler não apenas se abstém dessa esperança, mas encontra prazer em sua impossibilidade. Acha emocionante contemplar a suposta imobilidade do poder e prever as subversões ritualísticas da escrava que está convencida de que irá permanecer como tal. Ela nos diz – esta é a tese principal de The Psychic Life of Power – que todos nós erotizamos as estruturas de poder que nos oprimem e que, portanto, só podemos encontrar prazer sexual dentro de seus limites. Parece ser por essa razão que Butler prefere os atos sensuais de subversão paródica a qualquer mudança duradoura ou institucional. Mudanças reais iriam desestabilizar tanto nossa psique que a satisfação sexual se tonaria impossível. Nossas libidos são criadas pelas forças escravizantes más, e portanto são necessariamente sadomasoquistas em sua estrutura.
Bem, a performance paródica não é tão ruim quando você é uma acadêmica titular poderosa em uma universidade liberal. Mas é aqui que o foco de Butler no simbólico, sua negligência orgulhosa do aspecto material da vida, se torna uma cegueira fatal. Para mulheres com fome, analfabetas, desfavorecidas, espancadas ou estupradas, não é sedutor ou libertador reencenar, mesmo que de forma paródica, as condições de fome, analfabetismo, desfavorecimento, espancamento e estupro. Essas mulheres preferem comida, escola, direito ao voto e a integridade de seus corpos. Eu não vejo razões pra acreditar que elas anseiam por um retorno sadomasoquista a suas situações deploráveis. Se alguns indivíduos não conseguem viver sem a eroticidade da dominação, sua situação parece triste, mas não é da nossa conta. Só que, quando uma teórica renomada diz a mulheres em condições desesperadoras que a vida só lhes oferece a sujeição, ela provê uma mentira cruel, e uma mentira que adula o mal por lhe atribuir muito mais poder do que ele realmente tem.
Excitable Speech, o livro mais recente de Butler, que mostra sua análise das controvérsias legais envolvendo pornografia e discurso de ódio, nos mostra exatamente a quão longe seu quietismo chega. Porque agora ela está disposta a dizer que, mesmo onde as mudanças legais são possíveis, mesmo onde elas já aconteceram, deveríamos desejar que passassem, de modo a preservar o espaço no qual o oprimido pode encenar seus rituais sadomasoquistas de paródia.
Como trabalho sobre a legislação da liberdade de expressão, Excitable Speech é involuntariamente um livro ruim. Butler não demonstra domínio sobre as principais questões teóricas da Primeira Emenda, ou sobre os diversos casos que uma teoria dessas precisa levar em consideração. A autora faz afirmações absurdas sobre direito: ela diz, por exemplo, que o único tipo de discurso que tem sido deixado desprotegido é o discurso que foi previamente definido como conduta em vez de discurso. (Na verdade, há muitos tipos de discurso, de publicidade falsa ou enganosa a declarações difamatórias e obscenidades como agora definidas, que nunca foram reconhecidos como ação em vez de discurso, e que ainda assim a proteção da Primeira Emenda lhes é negada). Butler até mesmo afirma, erroneamente, que a obscenidade tem sido julgada como equivalente a “palavras de incitação à violência”. Não é como se Butler tivesse argumentos para apoiar suas leituras novas da vasta gama de casos de discurso desprotegido que uma explicação da Primeira Emenda precisaria cobrir. Ela simplesmente não notou que essa vasta gama de casos existe, ou que sua opinião não é muito aceita entre juristas. Ninguém interessado em direito consegue levar o argumento dela a sério.
Mas vamos extrair, da fraca discussão de Butler sobre discurso de ódio e pornografia, o cerne de seu posicionamento, que é este: proibições legais de discurso de ódio e pornografia são problemáticas (apesar de, no fim das contas, ela não se opor claramente a elas) porque fecham o espaço no qual os indivíduos lesados por esse discurso podem encenar sua resistência. Com isso, Butler parece defender que quando se lida com o crime de discurso de ódio através do sistema legal, haverá menos ocasiões para protesto informal; e também, talvez, que se o crime se tornar mais raro devido a sua proibição, teremos menos oportunidades de protestar contra sua presença.
Bem, sim. A lei realmente fecha esses espaços. Discurso de ódio e pornografia são assuntos extremamente delicados nos quais feministas podem discordar razoavelmente. (Ainda assim, deve-se indicar os pontos de vista conflitantes com precisão: o relato de Butler sobre MacKinnon é mais do que descuidado, afirmando que MacKinnon defende "regulamentos contra pornografia" e sugerindo que, apesar da negação explícita de MacKinnon, eles envolvem uma forma de censura. Em lugar algum Butler menciona que MacKinnon defende, na verdade, uma ação de danos civis em que mulheres específicas prejudicadas pela pornografia possam processar seus frabricantes e distribuidores.)
Mas os argumentos de Butler têm implicações muito além dos casos de discurso de ódio e pornografia. Eles parecem apoiar não apenas o quietismo nessas áreas, mas um quietismo legal e muito mais generalizado – ou, na verdade, um libertarianismo radical. Funciona assim: vamos acabar com tudo, desde a criação de códigos de leis contra a discriminação a leis contra o estupro, porque fecham os espaços nos quais os indivíduos prejudicados, as vítimas de discriminação e as mulheres estupradas podem encenar sua resistência. Claro, esse não é o mesmo argumento que libertários radicais usam para se opor à criação de leis como as antidiscriminatórias, e até mesmo eles veem o estupro como um limite. Mas as conclusões convergem.
Se Butler respondesse que seus argumentos pertencem somente ao domínio do discurso (e não há nenhuma razão dada em seu texto para tal limitação, visto a assimilação de discurso violento à conduta), então podemos responder também no domínio do discurso. Vamos nos livrar de leis contra publicidade enganosa e exercício ilegal da medicina, pois elas fecham os espaços em que os consumidores envenenados e os pacientes mutilados podem encenar sua resistência! De novo, se Butler não aprova essas extensões, ela precisa dar um argumento que separe seus casos desse tipo de casos, e não fica claro que sua posição lhe permita fazer tal distinção.
Para Butler, o ato de subversão é tão fascinante, tão sexy, que é um pesadelo pensar que o mundo vai se tornar um lugar melhor. Que tédio é a igualdade! Sem submissão, sem prazer. Nesse sentido, sua antropologia erótica pessimista oferece apoio a uma política anarquista amoral.
VI.
Quando consideramos o quietismo inerente aos textos de Butler, temos algumas indicações para entender a fascinação influente de Butler com o drag e o crossdressing como paradigmas de resistência feminista. Os seguidores de Butler entendem a consideração dela sobre o drag como uma sugestão de que tais performances são maneiras de mulheres serem atrevidas e subversivas. Eu não tenho conhecimento de qualquer tentativa de Butler de repudiar tais interpretações.
Mas o que está acontecendo aqui? A mulher vestida de forma masculinizada é dificilmente uma figura nova. Na verdade, até quando ela era relativamente nova, no século XIX, ela era de certo modo bem velha, pois simplesmente replicava no mundo lésbico os estereótipos e hierarquias existentes na sociedade de homens e mulheres. O que, podemos nos perguntar, seria uma subversão paródica nessa área, e que seria um tipo de aceitação da classe média próspera? Não seria a hierarquia no drag ainda hierarquia? E seria realmente verdade (como o livro The Psych Life of Power parece concluir) que dominação e subordinação são os papéis que mulheres devem desempenhar em toda esfera e, se não subordinação, então dominação masculina?
Em suma, crossdressing para mulheres é um roteiro fatigado e velho — como a própria Butler nos informa. Ainda assim ela nos apresenta esse roteiro como subertido, como feito novo, pelos cientes gestos indumentários e simbólicos da crossdresser; mas devemos novamente idagar sobre a sua novidade e até a sua subversão. Considere a paródia de Andrea Dworkin (em seu romance Mercy) de uma feminista paródica butleroide, que anuncia, de sua condição de conforto acadêmico seguro:
A noção de que coisas ruins acontecem é tão propagandística quanto inadequada... Entender a vida de uma mulher requer que afirmemos as dimensões ocultas ou obscuras do prazer, frequentemente na dor, e a escolha, frequentemente sob coação. Deve-se desenvolver uma sensibilidade para sinais secretos — as roupas que são mais que roupas ou a decoração no diálogo contemporâneo, por exemplo, ou a rebelião escondida por trás da conformidade aparente. Não existe vítima. Há, talvez, uma insuficiência de sinais, uma aparência inflexível de conformidade que simplesmente mascara o nível mais profundo em que a escolha ocorre.
Em uma prosa bastante diferente da de Butler, essa passagem capta a ambivalência da autora implícita de alguns dos escritos de Butler, que se deleita em sua prática violadora enquanto vira seu olho teórico resolutamente para longe do sofrimento material das mulheres que estão com fome, que são analfabetas, violadas, espancadas. Não há vítima. Só há uma insuficiência de sinais.
Butler sugere aos seus leitores que essa imitação astuta do status quo é o único roteiro para a resistência que a vida oferece. Bem, não é. Além de oferecer muitas outras maneiras de ser humano na vida pessoal de cada um, além de normas tradicionais de dominação e subserviência, a vida também oferece muitos roteiros de resistência que não se concentram narcisicamente na autoapresentação pessoal. Esses roteiros envolvem feministas (e outros, é claro) na construção de leis e instituições, sem muita preocupação de como uma mulher mostra seu próprio corpo e sua natureza de gênero: em suma, envolvem trabalhar para outras pessoas que estão sofrendo.
A grande tragédia na nova teoria feminista nos Estados Unidos é a perda de senso de comprometimento público. Nesse sentido, o feminismo envolvido em si mesmo de Butler é extremamente americano, e não é surpresa que tenha feito sucesso aqui, onde pessoas bem-sucedidas da classe média preferem se dedicar a si mesmas em vez de pensar em uma maneira de ajudar na condição material dos outros. Até nos Estados Unidos, entretanto, é possível teóricos se dedicarem ao bem público e alcançarem algo através desse esforço.
Muitas feministas nos Estados Unidos ainda estão teorizando de uma maneira que apoie a mudança material e dê uma resposta à situação dos mais oprimidos. Cada vez mais, entretanto, a tendência acadêmica e cultural se direciona ao flerte pessimista representado pela teorização de Butler e seus seguidores. O feminismo butleriano é de várias maneiras mais fácil que o antigo feminismo. Ele diz a várias mulheres talentosas e jovens que elas não precisam trabalhar para mudar as leis, alimentar os famintos ou atacar o poder através de teoria subordinada à política material. Elas podem fazer política na segurança dos campi, permanecendo no nível simbólico, fazendo gestos subversivos contra o poder através de discurso e simbolismos. Isso, a teoria diz, é basicamente tudo o que resta disponível para nós de qualquer maneira, pela via da ação política, e não é excitante e sexy?
De seu modo diminuto, claro, essa é uma política esperançosa. Ensina às pessoas que elas podem, agora mesmo, sem arriscar sua segurança, fazer algo ousado. Mas a ousadia é inteiramente gestual, e, na medida em que o ideário de Butler sugere que esses gestos simbólicos são realmente uma mudança política, ele oferece apenas uma falsa esperança. Mulheres famintas não se alimentam com isso, mulheres agredidas não são acolhidas por isso, mulheres estupradas não encontram justiça nisso e gays e lésbicas não alcançam proteção legal através disso.
Por fim, há desespero no centro da animada empreitada butleriana. A grande esperança, a esperança de um mundo de justiça real, onde as leis e as instituições protegem a igualdade e a dignidade de todos os cidadãos, foi banida, talvez até ridicularizada como sexualmente tediosa. A moda do quietismo em Judith Butler é uma resposta compreensível à dificuldade de realizar a justiça nos Estados Unidos. Mas é uma resposta nociva. Colabora com o mal. O feminismo exige mais e as mulheres merecem algo melhor.
Em The New Republic Online, 22 de fevereiro de 1999.
Tradução: Eli Vieira, Guilherme Jacob, Rodrigo Koch, Rony Marques e dois tradutores anônimos.
Revisão: Eli Vieira
Martha Nussbaum é uma filósofa americana e atualmente professora emérita de direito e ética na Universidade de Chicago, Estados Unidos. Acumula 51 títulos honorários em instituições de ensino superior nas Américas, Europa, Ásia e África.
N. do. T.: Mas veja a opinião do cientista Simon Baron-Cohen sobre diferenças precoces entre meninos e meninas aqui no Xibolete.